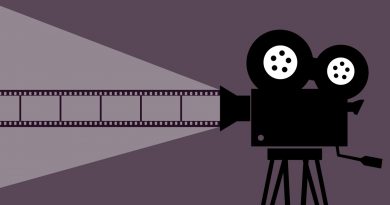Estátuas, Nacionalidade e a escola que não nos formou
No seguimento do homicídio de George Floyd, assistimos a uma cabal reivindicação global de combate ao racismo, um exercício extremamente difícil de levar a cabo em países onde este comporta uma dimensão estrutural.
Como afirma Sílvio Almeida, em O que é o racismo estrutural?, o racismo “é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender ao grupo racial ao qual pertençam”. Com efeito, é nas práticas inconscientes que o racismo tem maior preservação e eficácia, porque graças à sua capacidade de preservação, penetra as estruturas sociais, reproduzindo-se de forma invisível, traduzindo-se numa perceção comunitária de inexistência, a partir do “lugar de fala” da maioria. Aproxima-se, portanto, do que Weber designa por «dominação», tendo em vista que impõe o olhar enviesado do coletivo sobre a parte marginalizada. Em termos práticos, decorre que o racismo se perceciona como manifestado em atos isolados e não como parte do sistema social. Isto acontece por duas razões: 1) o olhar coletivo é inconscientemente racializado, i.e., se o racismo não é algo que a maioria sente (precisamente porque é maioria), então ele não existe como ativo social estruturante, 2) porque imporia uma reflexão profunda que mexe com os alicerces de conforto da psicologia coletiva.
Entramos, portanto, num terreno arenoso, ligado tanto à dominação inconsciente quanto à glorificação da memória coletiva.
Como lembra Jean-Louis Triaud, no seu capítulo “Lieux de mémoire et passés composés”, a memória é um ativo político que permite reforçar o poder de determinado grupo. Este aspeto liga-se, forçosamente, à construção de uma memória identitária de um coletivo alargado a que chamamos «nação». Para se produzir um sentimento de pertença e reconhecimento, é preciso que se fabriquem tradições que permitem dar um sentido de continuidade com o passado, como falavam Ranger e Hobsbawn em The Invention of Tradition. A nacionalidade é, assim, uma seleção de elementos culturais, práticas herdadas, símbolos e eventos históricos que em conjunto formam uma ideologia que é exaltada a partir do “ius solis”, i.e., de uma nacionalidade elaborada em função do solo – a geografia da identidade.
Ora, a nacionalidade para ser exaltada demanda por elementos culturais, desde a poesia, ao romance, passando pela arte em toda a sua expressividade, com pinturas, estátuas e monumentos [1]. Configuram-se elementos de exaltação da memória nacional, símbolos dos feitos, façanhas e atos heroicos que glorificam a «nação». Trata-se, portanto, do património material ao qual se junta o património imaterial, com a literatura, a música, o cancioneiro e as práticas culturais, desde as romarias às festividades dos santos da devoção popular.
Mais do que em qualquer outro momento da nossa história, o Estado Novo veiculou uma ideologia de nacionalidade, assente no catolicismo popular, em particular em torno de Fátima, na valorização das “raízes”, i.e., da memória coletiva construída nas tradições rurais, no fado e no futebol.
A socialização das várias gerações que o regime atravessou, fez-se na exaltação da heroica façanha portuguesa dos Descobrimentos, ato fundador da lusofonia, cuja euforia ideológica foi fundante do lusotropicalismo. A ideologia da ação civilizadora portuguesa, empreitada que levou aos selvagens a “salvação” católica e a “civilização”, expressa-se paradigmaticamente no Portugal dos Pequenitos. Com efeito, tanto nesse parque temático quanto no ensino escolar, o 25 de Abril não sedeou qualquer rutura. Não experienciámos, enfim, qualquer ímpeto descolonialista. Ainda hoje, o Portugal dos Pequenitos permanece um espaço de exaltação desse Portugal dos monumentos arquitetónicos e do “bom colonizador”. Não se verifica qualquer esforço de contextualização da narrativa e de desconstrução ideológica. Ali, 1940 permaneceu. E o mesmo aconteceu com o ensino escolar. A epopeia dos Descobrimentos é ensinada às crianças num mesmo tom civilizador, sem qualquer margem para pensar os eventos do lugar do «outro». Não é oferecida uma descolonização do mais exaltado período da história portuguesa, uma vez que este permanece como um recurso ideológico na reprodução da memória instituída da “portugalidade”. Com a perpetuação da narrativa ideológica herdada do Estado Novo, os portugueses continuam a pensar os Descobrimentos e a colonização a partir do mito do “bom colonizador”, aquele que levou aos africanos e aos índios do Brasil a salvação e a civilização, resgatando-os da selvajaria dos seus costumes.
Ao perpetuar a narrativa eurocêntrica da produção da História, observa-se a cristalização de lugares de conforto e dominação ocidentais.
Não obstante, é importante refrear os ímpetos revisionistas que procuram ajustes de contas com a História. Esse tipo de atitude não faz mais do que procurar alterar o eixo de dominação, ao invés de tentar oferecer “voz”, i.e., visibilizar, as culturas vítimas e invisibilizadas pela narrativa eurocêntrica. É imperioso reconhecer que todos os países têm direito ao seu património cultural e identitário e a uma memória histórica, e que a visibilização das vozes silenciadas – de que podemos destacar p. ex. a presença africana na cidade de Lisboa [2] –, não pode implicar a destruição material e/ou simbólica dos elementos da cultura dominante, sob pena de abrir um frecha irreparável de fortes efeitos políticos e civis.
Assim, descolonizar o pensamento e a sociedade civil é imperioso, não como um ato de destruição da História, nem mesmo de reparação, mas antes como gesto de visibilização das vozes silenciadas e, sobretudo, em nome da memória histórica da humanidade como um todo. Em Portugal, é cada vez mais necessário abandonar o lusotropicalismo e a exaltação dos Descobrimentos per se, processo que tem produzido uma secundarização da escravatura, inscrita como parte do processo histórico, evocação que traz, nesses termos, uma redenção simbólica e psicológica, não às culturas vítimas, mas à dominante. A Escravatura só poderá ser tratada como um evento “lá atrás” quando for trazida à sociedade civil, através do Ensino básico e secundário e espaços de fomento cultural, como um evento de destruição de vidas humanas e de culturas. Somente quando for normativo o olhar sobre os Descobrimentos e a colonização como uma ocorrência de duas faces, poderemos falar em fim de uma dominação cultural e de uma ideologia de portugalidade. O Quinto Império não é uma promessa, mas uma ameaça. Por outro lado, o combate por essa integração de um olhar criterioso e consciente não pode ser feito por meio da destruição da memória histórica e do património, sem com isso estar a violar o direito à dignidade identitária.
Precisamos focar as múltiplas vozes da História e da identidade portuguesa, não apagar o denominador comum para substituir por outro.
As opiniões expressas neste texto representam unicamente o ponto de vista do autor e não vinculam o Centro de Estudos Internacionais, a sua direcção ou qualquer outro investigador.
Estátua do Padre António Vieira / foto de Pedro Ribeiro Simões / CC BY 2.0
[1] ver Giumbelli, Emerson. "Brasileiro e europeu: a construção da nacionalidade em torno do monumento ao Cristo Redentor do Corcovado." Cadernos de Antropologia e Imagem 24.1 (2011): 35-63. Oriá, Ricardo. "Construindo o Panteão dos Heróis Nacionais: monumentos à República, rituais cívicos e o ensino de História." Revista História Hoje 3.6 (2014): 43-66. [2] Leite, Pedro Pereira, Isabel de Castro Henriques, e Ana Fantasia, Lisboa Cidade Africana: Percursos e Lugares de Memória da Presença Africana, Marca d’ Água: Publicações e Projetos (2013).
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.